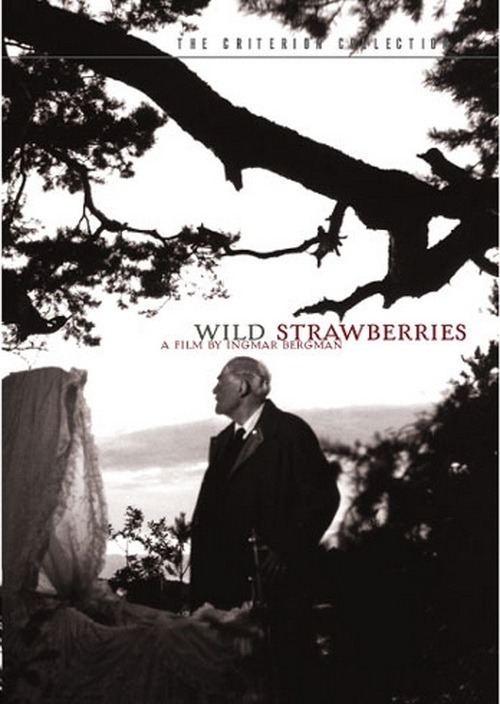Após o surgimento do compartilhamento de arquivos e da música digital, é raro encontrar alguém que ainda compre discos, eu não sou exceção, nem tenho aparelho de som e toda a minha "coleção" de música é em mp3, praticamente. Contudo uma parte dessa nova cultura não me agrada, a das músicas individuais e playlists. Não é um grande problema, eu entendo que às vezes um artista tem seus hits e as outras músicas não agradam tanto, ainda assim não consigo ouvir música dessa maneira, eu ainda tenho o costume de ouvir álbuns, coisa que anda se perdendo hoje em dia. Pra quem não sabe, de tempos em tempos, um artista lança uma reunião de suas músicas novas, seja em disco ou formato digital, isso é um álbum (mais ou menos como um filme ou um livro), e eu gosto de ouvir esses álbuns do começo ao fim. Por isso decidi que vou dedicar esse mês a essas peças esquecidas da música - os álbuns. Mas Raphael, ainda estamos em agosto, qual mês você está falando? Ora, o período entre 31/8 e 30/9. E você só vai falar de música esse tempo todo? É, se não te agrada, faça seu próprio blog! Os álbuns que eu resenharei nesse período não são necessariamente uma lista dos meus favoritos - minha coleção tem mais de 2000 álbuns, de diferentes gêneros e épocas, não poderia escolher os favoritos. A lista será baseada na variedade, gente que eu ainda não mencionei aqui, de preferência de diferentes gêneros. Começando com o gênio em pessoa, Stevie Wonder, e seu clássico de 72, Talking Book.
Difícil falar desse disco, porque ele é impecável. Tem faixas de destaque, mas não tem uma faixa ruim sequer. Pode ser ouvido do começo ao fim, todas 10 músicas, todos os 45 minutos, sem pular nada - na verdade até repetindo algumas músicas. E começa assim, com a leve e animada You Are The Sunshine Of My Life, uma música bem romântica, mas nem um pouco melosa ou cheia de promessas vazias, é puro sentimento, e é nisso que o Stevie Wonder se separa dos outros compositores. Nessa época, década de 70 (antes de ele começar a gravar lixo como I Just Called To Say I Love You), a música do Stevie tinha alma, e Talking Book mesmo tem vários exemplos de músicas românticas que fogem do padrão açucarado e barato que o sistema musical tanto ama, como: You And I, I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever), Lookin' For Another Pure Love (com direito a Jeff Beck na guitarra).
Mas nem só de romantismo e baladas leves vive Talking Book, logo na segunda música o funk já começa a dar seus sinais, no peso do baixo sintético (Moog Bass, também tocado pelo Stevie Wonder, mas que parece muito real) e na guitarra distorcida do Ray Parker Jr. - "O" Ray Parker Jr. (I ain't afraid of no ghosts!). E até as músicas mais leves não se mantém leves o tempo todo, com momentos em que a batida vai acelerando - afinal a música não precisa ser igual do começo ao fim, como alguns artistas acreditam que deve ser.
Não tem uma música ruim no disco, eu repito, mas é nesse disco que está a icônica "Superstition". A música que todos pensam quando falam de Stevie Wonder. E a faixa merece toda essa atenção e respeito, é realmente tão boa assim, com uma linha de sopro sólida, um ritmo perfeito e tem a voz e o clavinet do Stevie, que já valem a música toda.
Uma coisa que vale mencionar quanto à produção do disco, quase todos os instrumentos foram gravados pelo próprio Stevie Wonder, assim como quase todas as letras e arranjos - lembram do tempo em que os músicos tinham compromisso com a sua obra...pois é, bons tempos. Sendo assim, faixas como Big Brother, I Believe e You and I, não tiveram participação de ninguém além do Stevie Wonder, que gravou todos os instrumentos, além de cantar e escrever a música. E ele era cego. E tinha 22 anos. Já está se sentindo mal consigo mesmo? Eu estou.
Talking Book é o trabalho de um gênio e deve ser ouvido do começo ao fim com muita atenção.
Nota: 5/5
Difícil falar desse disco, porque ele é impecável. Tem faixas de destaque, mas não tem uma faixa ruim sequer. Pode ser ouvido do começo ao fim, todas 10 músicas, todos os 45 minutos, sem pular nada - na verdade até repetindo algumas músicas. E começa assim, com a leve e animada You Are The Sunshine Of My Life, uma música bem romântica, mas nem um pouco melosa ou cheia de promessas vazias, é puro sentimento, e é nisso que o Stevie Wonder se separa dos outros compositores. Nessa época, década de 70 (antes de ele começar a gravar lixo como I Just Called To Say I Love You), a música do Stevie tinha alma, e Talking Book mesmo tem vários exemplos de músicas românticas que fogem do padrão açucarado e barato que o sistema musical tanto ama, como: You And I, I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever), Lookin' For Another Pure Love (com direito a Jeff Beck na guitarra).
Mas nem só de romantismo e baladas leves vive Talking Book, logo na segunda música o funk já começa a dar seus sinais, no peso do baixo sintético (Moog Bass, também tocado pelo Stevie Wonder, mas que parece muito real) e na guitarra distorcida do Ray Parker Jr. - "O" Ray Parker Jr. (I ain't afraid of no ghosts!). E até as músicas mais leves não se mantém leves o tempo todo, com momentos em que a batida vai acelerando - afinal a música não precisa ser igual do começo ao fim, como alguns artistas acreditam que deve ser.
Não tem uma música ruim no disco, eu repito, mas é nesse disco que está a icônica "Superstition". A música que todos pensam quando falam de Stevie Wonder. E a faixa merece toda essa atenção e respeito, é realmente tão boa assim, com uma linha de sopro sólida, um ritmo perfeito e tem a voz e o clavinet do Stevie, que já valem a música toda.
Uma coisa que vale mencionar quanto à produção do disco, quase todos os instrumentos foram gravados pelo próprio Stevie Wonder, assim como quase todas as letras e arranjos - lembram do tempo em que os músicos tinham compromisso com a sua obra...pois é, bons tempos. Sendo assim, faixas como Big Brother, I Believe e You and I, não tiveram participação de ninguém além do Stevie Wonder, que gravou todos os instrumentos, além de cantar e escrever a música. E ele era cego. E tinha 22 anos. Já está se sentindo mal consigo mesmo? Eu estou.
Talking Book é o trabalho de um gênio e deve ser ouvido do começo ao fim com muita atenção.
Nota: 5/5